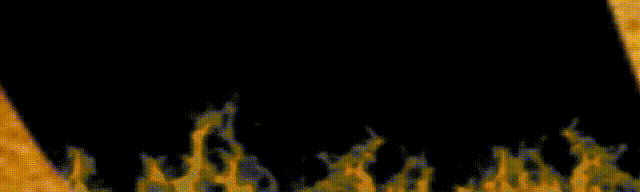SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A 8ª Vara do Trabalho de Redenção, no Pará, condenou a Volkswagen ao pagamento de multa no valor de R$ 165 milhões pela acusação de trabalho análogo à escravidão na ditadura militar em uma fazenda que mantinha no Brasil, na região Norte.
A empresa foi condenada ainda a fazer um pedido público de desculpas em jornais e revistas, e manter em seus contratos de terceirização cláusula de vedação a trabalho escravo.
A montadora irá recorrer. Em nota, afirma que “seguirá sua defesa em busca de justiça e segurança jurídica nas instâncias superiores” e diz defender a dignidade humana ao longo de sua história.
“A Volkswagen do Brasil informa que tomou conhecimento da decisão em primeira instância relacionada à investigação da fazenda Vale do Rio Cristalino, mas seguirá sua defesa em busca de justiça e segurança jurídica nas instâncias superiores”, diz.
“Com um legado de 72 anos, a empresa defende consistentemente os princípios da dignidade humana e cumpre rigorosamente todas as leis e regulamentos trabalhistas aplicáveis. A Volkswagen reafirma seu compromisso inabalável com a responsabilidade social, que está intrinsecamente ligada à sua conduta como pessoa jurídica e empregadora.”
O caso foi levado à Justiça no final de 2024, por meio de ação civil pública com acusações de trabalho escravo, tráfico de pessoas e violações dos direitos humanos na fazenda Vale do Rio Cristalino, conhecida como fazenda Volkswagen, em Santana do Araguaia (PA), entre os anos de 1974 e 1986.
A propriedade pertence à CVRC (Companhia Vale do Rio Cristalino Agropecuária Comércio e Indústria), subsidiária da Volkswagen, e era usada pela empresa para criação de gado e extração de madeira durante a ditadura militar.
O julgamento da empresa começou em maio de 2025. Houve tentativa de conciliação em dois momentos, mas a Volkswagen negou o acordo. Em sua defesa, solicitou que os pedidos do MPT (Ministério Público do Trabalho), responsável pela ação civil pública, fossem negados.
Alegou ainda que os trabalhadores não tinham vínculo de emprego com as empreiteiras contratadas na época, disse não haver mais nenhum sucessor que integre o passivo da ação e que os funcionários não prestavam serviços diretos à Volkswagen, mas a terceiros, e nunca pediram reconhecimento da carteira assinada.
Em sua decisão, que tem quase 300 páginas, o juiz Otavio Bruno da Silva Ferreira afirmou que os casos narrados na ação, mesmo que ocorridos nas décadas de 1970 e 1980, revelam “violação grave e sistemática de direitos fundamentais”.
Silva citou ainda as acusações de aliciamento, servidão por dívida, restrição de locomoção e condições degradantes como agravantes, incluindo exigência de autorização escrita para sair e retenção de quem tentava deixar o local.
“Tais elementos demonstram a gravidade e justificam a adoção de medidas de satisfação (reconhecimento público e desculpas) e de não repetição (deveres estruturais de diligência na cadeia), para prevenir reiteração e reconstituir a confiança pública”, afirmou.
Segundo a ação civil pública, a fazenda Vale do Rio Cristalino era um “dos maiores empreendimentos rurais da região amazônica, iniciado na década de 1970 e subsidiado pelo governo militar, sobretudo por meio da Sudam (Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia) e do Basa (Banco da Amazonia S/A)”.
O local chegou ter cerca de 300 empregados diretos, incluindo profissionais para funções administrativas, vaqueiro, segurança e fiscais, entre outras. Para o serviço de roçagem e derrubada, o trabalho seria feito de forma análoga à escravidão por trabalhadores sem vínculos empregatícios, contratados por empreiteiros.
O início do trabalho se deu com a transformação da vegetação nativa em local de 139 mil hectares em área de pasto por meio de queimadas e desmatamentos feitos por empreiteiros chamados de “gatos”, que seriam os responsáveis por recrutar lavradores em pequenos municípios no interior dos estados de Mato Grosso, Goiás e no que é hoje o Tocantins.
O processo diz que os “gatos” ofereciam trabalho para vários homens, em especial adolescentes, com promessas como bom salário, vínculo de emprego com a montadora e outras vantagens. Era comum deixar dinheiro adiantado com a família dos trabalhadores.
Os jovens eram levados em paus de arara vigiados por homens armados. Ao chegar ao local, muitas vezes, eram vendidos para outros “gatos”, proibidos de ir e vir, e forçados a trabalhar sob o argumento de que já tinham dívidas de transporte e até mesmo de comida com a fazenda.
As frentes de trabalho ficavam a cerca de 80 km da entrada. Eram comuns, segundo a denúncia, violência, jornadas extenuantes, golpes de facão, humilhações e até disparo de armas de fogo. Há relatos de desaparecimentos.
Ao chegar à fazenda, de acordo com o MPT, os profissionais eram obrigados a comprar uma lona e construir a própria moradia de forma precária. A comida era comprada em uma cantina no local e eles nunca conseguiam quitar as dívidas, dizem os relatos.
As denúncias chegaram ao MPT em 2019, levadas pelo padre Ricardo Rezende Figueira, que foi coordenador da CPT (Comissão Pastoral da Terra) para a região do Araguaia e Tocantins da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) na época.
Fonte:Notícias ao minuto